No imaginário literário, o sofrimento do autor é frequentemente romantizado como parte inseparável do processo criativo. No entanto, quando agentes privilegiados do campo editorial — editores de grandes casas publicadoras, figuras com capital simbólico e visibilidade consolidada — se colocam como os que mais sofrem dentro da cadeia do livro, essa romantização se transforma em apagamento. Este ensaio propõe uma análise crítica dessa retórica do “sofrimento em dobro” assumida por membros da elite editorial, refletindo sobre como ela desconsidera as desigualdades estruturais do campo literário e invisibiliza os desafios enfrentados por escritores marginalizados.
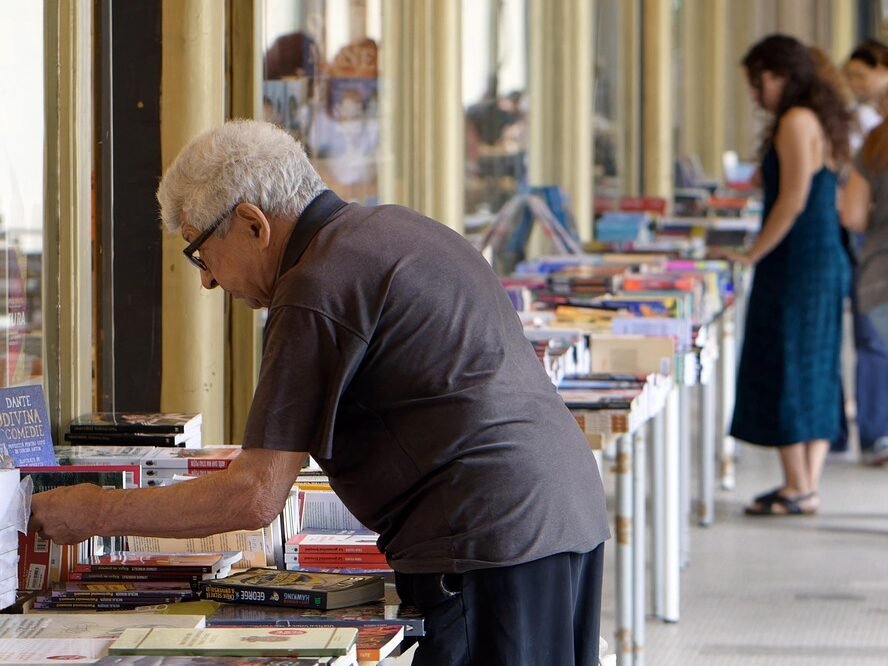
O campo literário como espaço desigual
Segundo Pierre Bourdieu (1992), o campo literário é um espaço de disputas simbólicas estruturado pela distribuição desigual de capitais — econômicos, sociais e culturais. Nele, nem todos os agentes competem em condições equivalentes. Aqueles que possuem maior volume de capital simbólico (prestígio, reconhecimento, redes de contato) tendem a ocupar posições dominantes, definindo o que será considerado “literatura legítima”. Isso se reflete em práticas editoriais, premiações, curadorias de feiras e recepção crítica.
No contexto brasileiro, essa estrutura se acentua. Diversos estudos mostram que os autores publicados por grandes editoras pertencem majoritariamente às classes médias e altas, são brancos, de centros urbanos e com alta escolarização. Já autores negros, indígenas, LGBTQIA+ ou periféricos enfrentam barreiras de entrada que vão desde o desconhecimento sobre os processos de submissão até o racismo e elitismo estrutural das instâncias de validação literária.
Sofrimento como retórica elitista
É nesse contexto que a retórica do “sofrimento artístico” adquire contornos problemáticos. Quando alguém que ocupa uma posição consolidada no topo da cadeia produtiva do livro afirma sofrer mais que os autores — seja por ansiedade criativa, perfeccionismo ou pressão estética —, essa afirmação deixa de ser individual para se tornar ideológica. Conforme Djamila Ribeiro (2017), a falta de consciência sobre o próprio privilégio é uma das formas mais sutis de manutenção das desigualdades: naturaliza-se uma experiência de dor sem considerar as camadas sociais que a atravessam.
O “sofrimento” de quem escreve com estabilidade financeira, apoio institucional e prestígio não é comparável ao de quem escreve em meio à precariedade, à invisibilidade, à urgência de sobreviver. Enquanto alguns se angustiariam com a perfeição de um parágrafo, outros lidam com a recusa sistemática de originais, a falta de acesso a redes de publicação ou a impossibilidade de dedicar-se integralmente à escrita por conta do trabalho informal e da falta de recursos.
Invisibilização da luta e fetichização da dor
A retórica do sofrimento maximizado, quando encampada por agentes do topo, opera um duplo movimento: ao mesmo tempo em que humaniza e confere profundidade psicológica ao sujeito privilegiado, ela obscurece o esforço estrutural de quem não tem espaço. Essa é uma forma de violência simbólica, como apontaria Bourdieu (1996): a imposição de uma visão de mundo a partir da posição dominante, apresentada como universal e neutra.
Além disso, essa fala performática reforça um imaginário que fetichiza o sofrimento como medida de autenticidade literária. A dor vira adorno, e não denúncia. Nesse processo, esvazia-se a dimensão política da escrita enquanto ato de resistência — especialmente nas margens. Para muitos escritores e escritoras das periferias, das comunidades indígenas ou negras, a literatura é uma forma de dizer o indizível, de disputar narrativas, de afirmar existência. E isso, em um país como o Brasil, é mais do que sofrimento: é luta.
Conclusão
Ao assumir que figuras privilegiadas da cadeia editorial sofrem mais que autores comuns, apaga-se a complexidade das desigualdades que marcam o campo literário. Em vez de ampliar a empatia, essa retórica cristaliza hierarquias. É necessário reconhecer que o sofrimento criativo não pode ser separado das condições materiais de quem escreve. A escrita, para muitos, não é apenas expressão subjetiva, mas forma de sobrevivência simbólica e econômica. Um gesto político. Por isso, qualquer discurso que tente igualar as dores sem considerar os privilégios parte de uma visão limitada — e, no fundo, injusta — do que significa ser escritor no Brasil.
Referências
- BOURDIEU, Pierre. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
- RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento, 2017.
- MACHADO, Maíra. “Racismo silencioso no mercado editorial brasileiro”. Revista Cult, n. 253, 2020.
- SILVA, Petronilha. Epistemologias do Sul e o direito à voz. São Paulo: Cortez, 2021.