Nunca antes se viu o campo literário tão tomado por oportunismo, carreirismo, vaidade desenfreada e, mais gravemente, por uma profunda corrosão ética. O número de indivíduos autointitulados “agentes culturais”, “curadores”, “referências” ou “empreendedores criativos” atingiu um patamar assustador. Isso não ocorre por acaso; trata-se de um sintoma de distorções estruturais profundas no setor.
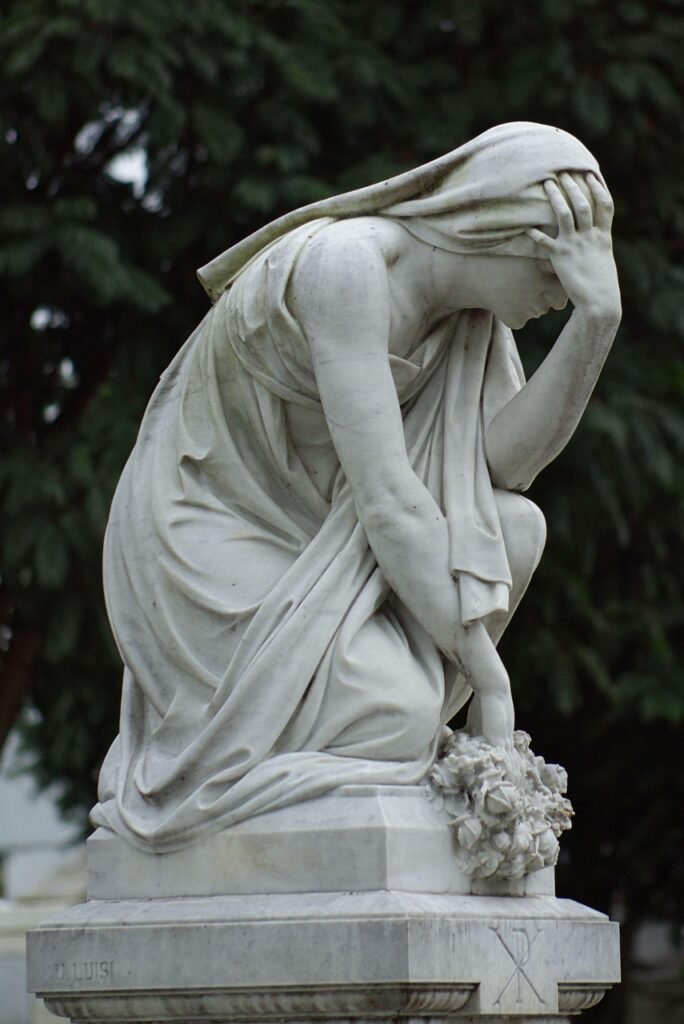
Não se trata de apontar culpados pelo nome ou de promover uma caça às bruxas — perseguições pessoais são práticas próprias do fascismo e não contribuem para nenhuma solução. A preocupação central aqui é com a estrutura sistêmica. Nas últimas décadas, estruturou-se um sistema literário que não visa valorizar a arte da literatura, e sim converter a produção simbólica em moeda social, influência digital e capital de autopromoção. Esse sistema repete, sob outros rótulos, as velhas formas de exclusão — sejam elas raciais, territoriais, de classe, de gênero ou de capital cultural — só que agora revestidas de ares progressistas, linguagem publicitária e posts “lacradores” nas redes sociais.
O discurso da transformação também foi apropriado por essa lógica de mercado. Bibliodiversidade, por exemplo, virou o termo da moda: está presente em editais, campanhas de marketing institucional e nos pronunciamentos de CEOs do ramo editorial. Porém, ao olhar de perto, pratica-se o oposto desse ideal – o que se vê é concentração, repetição, monocultura editorial. É a velha monocultura da soja com nova embalagem: muda-se o rótulo, mas o envenenamento é o mesmo.
Muitos eventos, selos e plataformas que se autoproclamam “inovadores” ou “inclusivos” operam, na verdade, segundo o velho clubismo corporativo. Entra quem já estava dentro; circula quem sempre circulou. A diversidade até existe, mas precisa encaixar-se em um molde específico — aquele vendável e instagramável. Há espaço para exceções pontuais, nunca para rupturas genuínas. E a exceção contemplada ainda é levada a agradecer pelo convite e pelo espaço concedido.
Enquanto isso, a cena genuinamente transformadora — aquela que floresce no chão das escolas, nos clubes de leitura de bairro, nas pequenas editoras que viabilizam livros com dinheiro de rifa ou esforço coletivo — permanece invisível. Quando muito, essas iniciativas de base são vampirizadas: viram matéria de reportagem, objeto de prêmio ou tema de painel de congresso, mas não se convertem em estrutura, nem em recursos permanentes, nem em políticas públicas consistentes.
Vivencia-se hoje uma saturação de discursos acompanhada pela falência de práticas concretas. Não há mais espaço para retórica evasiva ou “papo que faz curva”. É necessário promover um debate honesto, coletivo e profundo sobre os rumos do campo literário. Esse debate deve questionar, por exemplo:
- quem de fato lucra com este mercado disfarçado de movimento;
- como a precarização virou regra e o aplauso virou moeda;
- por que se passou a educar para a bajulação em vez da crítica;
- e por que, no fim das contas, a literatura tem sido o elemento que menos importa.
Essa crise não é apenas financeira ou estética — é fundamentalmente ética. E não será resolvida com “vaquinhas” de visibilidade ou campanhas sazonais de “diversidade performada”. É preciso reorganizar o campo literário a partir de outras lógicas: aquelas baseadas no comprometimento real com o coletivo, na leitura entendida como prática emancipadora, e na arte literária vista como linguagem de mundo — e não como mera escada para promoção individual.
É hora de parar de “vender terreno no céu” com slogans atraentes e passar a encarar seriamente as bases podres de um sistema que, se não for transformado de verdade, continuará expulsando justamente os corpos e as ideias que mais importam. Em suma, é preciso reorientar as prioridades do campo literário. Afinal:
- Não é sobre personalismo; é sobre estrutura.
- Não é sobre fazer bonito; é sobre fazer justo.
- Não é sobre repetir erros com nova estética; é sobre não aceitar mais os erros como método.
Quem de fato vive de literatura não vive de engodo; vive de palavra reta, de construção com chão e com gente. Já passou da hora de separar o que é livro do que é apenas vitrine.